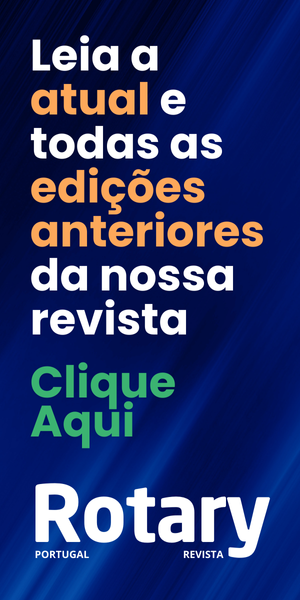A Ler Agora: Rumo à Felicidade
-
01
Rumo à Felicidade
Rumo à Felicidade

Onde podemos encontrá-la? Com a ajuda dos membros do Rotary, o nosso curioso “Homem Comum” tenta descobrir.
Por Jeff Ruby
O que é a felicidade
No verão anterior ao meu último ano de faculdade, fiz uma digressão de basebol de uma semana com o meu irmão. Na altura, os meus ombros eram firmes, o cabelo farto e a confiança transbordava. Durante nove dias, viajámos de estádio em estádio, com outros 24 fãs eufóricos, num confortável autocarro com ar condicionado, aplaudindo, rindo, conhecendo pessoas. Maravilhámo-nos com os fogos de artifício nas bancadas do estádio Camden Yards e prestámos homenagem no memorial do jogador Lou Gehrig, no Yankee Stadium. Em Detroit, vi Cecil Fielder bater um home run tão majestoso e violento que talvez tenha deixado uma cratera na Lua.
Red Roof Inn, onde o Kenn e eu descarregávamos toda a bagagem do autocarro, tarefa que nos valia uma grade de Bud Light oferecida pelo guia. Apesar dos nossos esforços, a cerveja acumulava-se até que, em Cleveland, fomos obrigados a encher uma banheira de hotel com gelo e a organizar uma festa. Depois de todos saírem, o Kenn e eu víamos filmes até eu adormecer, num sono tranquilo que só chega com o cansaço feliz de um dia cheio de sol. Não estava apenas a ver a América, estava a vivê-la.
Quando a viagem terminou, a vida voltou com um baque, e as memórias foram engolidas por uma torrente de dúvidas sobre o futuro. Senti-me perdido e inquieto, num último ano atribulado, com uma clavícula partida e preocupações infindáveis sobre a graduação. Tudo o que eu queria era voltar a Detroit, beber cerveja barata com o meu irmão e rever o voo lunar de Fielder.
Talvez uma parte de mim já soubesse que aquela ideia de felicidade era insustentável, mas, à medida que a idade adulta me arrastava, aqueles nove dias e noites não se tornaram apenas as recordações mais agradáveis da minha vida, cristalizaram-se como a definição do que era felicidade: uma euforia descomplicada, que só podia ser prolongada por reforços constantes. Outro jogo. Outra cerveja. Outra aventura.
Avançando 25 anos, eu era crítico gastronómico da Chicago Magazine, um cargo cobiçado, com prestígio, poder e uma conta de despesas generosa. Durante meses inteiros, era pago para comer apenas costeletas maturadas, temperadas com sal dos Himalaias e cobertas de manteiga trufada. Se algum trabalho deveria provocar felicidade, seria este.
Mas o efeito foi o oposto. Quando não estava angustiado com a escrita, vivia com medo de ser confrontado por um chef zangado ou exposto como um impostor sem formação culinária. Discutia inutilmente no Twitter (X) e tinha dificuldade em encontrar prazer entre o colesterol alto e a cintura em expansão. No fundo, sentia que estava no emprego errado, na vida errada, e, à medida que o festim interminável se transformava em algo opressivo e feio, tudo o que queria era sair dali.
Em outras palavras: O que diabo se passava comigo?
Coloca o “tu” na eudaimonia
Pergunte a dez pessoas o que querem da vida e surgem temas comuns. Muitos falam de amor, paz ou saúde. Outros mencionam Deus ou a busca espiritual, procurando verdades mais profundas através do crescimento pessoal ou de um impacto positivo no mundo. Mas, acima de tudo, a maioria procura alguma forma de felicidade.
Mas, afinal, o que é a felicidade? Um sentimento? Uma sensação física? Algo mais místico e universal? A interpretação muda de pessoa para pessoa e até de dia para dia, dependendo da educação, das experiências e da química cerebral. A ironia é que quase ninguém sabe definir um conceito tão subjetivo – muito menos alcançá-lo – mas isso não nos impede de tentar. Platão descreveu o ser humano como “um ser em busca de sentido”, e 2.400 anos e milhões de livros de autoajuda depois, ninguém melhorou essa definição.
Todos os anos, o World Happiness Report entrevista mais de 100 mil pessoas em todo o mundo e analisa dados para criar uma classificação global da felicidade dos países. Sempre achei a lista um pouco ridícula: porque é que a Finlândia estava sempre no topo? Em que mundo estranho eram os salvadorenhos, sauditas ou, já agora, os britânicos mais felizes do que os italianos da dolce vita? E o Egito? A ideia de definir e classificar a felicidade à escala global parecia-me absurda.
Mas, ao investigar melhor, percebi que o índice não se baseava em emoções passageiras ou em momentos fugazes de prazer, como os que eu procurava. Era construído sobre “avaliações de vida” que refletiam as circunstâncias mais amplas da existência de uma pessoa – liberdade de escolha, apoio social, generosidade. Estados emocionais temporários (“Sinto-me feliz hoje”) eram ignorados em favor de julgamentos de fundo (“Estou feliz com a minha vida no geral”). Este último está ligado ao conceito grego de eudaimonia, que se traduz hoje por “felicidade” ou “bem-estar”, mas que, segundo Aristóteles, representava uma paz duradoura alcançada através de uma vida significativa, vivida em conformidade com os próprios valores.
É aqui que tantos de nós falham. Apesar do meu esforço para alcançar aquele cargo em Chicago Magazine, ser crítico gastronómico pouco tinha a ver com os meus valores. Um dia, a minha filha adolescente, de língua afiada, disse-me que eu passava os dias “a dizer aos ricos onde comer”, e tudo desabou. Um ano depois, deixei o emprego e voltei à universidade para tirar um mestrado em Serviço Social.
Ter um “momento Harvey”
E se uma vida feliz não fosse assim tão inalcançável? Talvez as respostas estivessem bem à vista, nas páginas do World Happiness Report, à espera de serem descobertas. Movido por essa esperança, entrevistei membros do Rotary em cinco países diferentes – de várias posições no ranking mundial – para lhes perguntar como definiam a felicidade nas suas vidas. Quis recolher não só filosofias de vida,
mas também
conselhos práticos
que pudesse aplicar à
minha própria rotina.
Comecei pelo fim da
tabela. O Líbano ocupa o
145.º lugar entre 147 países,
resultado da instabilidade política
e da crise económica que tem causado escassez de bens e serviços. “Encontrar alguém feliz, em vez de resiliente, no Líbano é muito difícil”, diz Michel Jazzar, dentista de 74 anos e ex-governador do Distrito 2452, residente em Jounieh, a cerca de 16 quilómetros de Beirute. “Os libaneses são as pessoas deprimidas mais felizes do mundo.”
Com um ar paternal e sereno, Jazzar pensa em árabe, traduz mentalmente para francês e fala em inglês. A sua positividade é tão genuína que transforma frases banais como “devemos ser cidadãos do mundo” em verdadeiros apelos à ação. Deu-me vários conselhos familiares – servir os outros, estar rodeado de pessoas que se ama, não deixar o ego dominar – mas uma expressão destacou-se: falou de ter um “sentido alegre de humanidade”. Quando lhe perguntei o que queria dizer, respondeu que a esperança pode levar à felicidade, mas que se pode praticar a felicidade de uma forma concreta: através do riso. “Vou ao Facebook ouvir anedotas”, disse-me. “Gosto de ver o Steve Harvey para perceber como os americanos riem.”
Steve Harvey? A chave da felicidade é o Steve Harvey?
Procurei um vídeo antigo no YouTube com Harvey em palco, num fato cor de vinho berrante, a falar sobre a alegria de conduzir um “carro miserável”. Não era o meu género, mas havia algo na energia contagiante do humor que me confortou. Decidi substituir a meditação matinal por 20 minutos de comédia. Cada sessão dava o tom ao meu dia. Com John Mulaney e Sarah Silverman, aprendi a rir das pequenas situações do quotidiano; com Dave Chappelle, comecei a quebrar a rigidez automática das interações e a aproximar-me das pessoas com uma abertura que me surpreendeu.
Faça você mesmo
De seguida, entrevistei Ambalavanan Muruganathan, CEO de uma fábrica em Chennai, na Índia, e membro do Rotary Club de Madras Mid-Town. Avaliar a felicidade de um país com 1,450 mil milhões de habitantes parece impossível, mas a Índia ficou em 118.º lugar, nove posições abaixo do Paquistão, o que levou o Times of India a ironizar: “A Índia acabou de enviar uma nave à Lua.” Muruganathan limitou-se a comentar: “Ainda temos um longo caminho a percorrer até alcançar a serenidade mental.” Yogi e adepto do exercício físico, o indiano de 58 anos enfatiza a importância da atividade e da atenção plena, de ter uma “visão 360 graus” e plena consciência do que nos rodeia. Segundo ele, a estabilidade, e não a busca da felicidade, é o caminho certo. E a estabilidade nasce da autoconfiança, que deve ser incutida desde cedo. “As escolas precisam de identificar o talento especial de cada criança e ajudá-la a desenvolvê-lo”, diz. “As crianças não têm sido ensinadas a compreender a sua própria grandeza.” Só quando as pessoas se compreendem a si mesmas, afirma, conseguem abraçar a humanidade e o seu potencial.
Perguntei à minha filha Avi, de 13 anos, se achava que ele tinha razão. “Não é responsabilidade dos outros fazer-me sentir bem”, respondeu. “Sou eu que tenho de o fazer.”
Avi explicou que a sua confiança não nasceu na escola, mas das aulas de equitação. Eu já tinha assistido a algumas e achava-as difíceis de ver. A treinadora era implacável, gritando-lhe para endireitar os ombros. Aos 13 anos, eu teria desmoronado. Avi vê nas críticas o caminho mais rápido para melhorar numa coisa que ama. No ano passado, quando um professor de ginástica a repreendeu pela falta de jeito, ela encolheu os ombros: “Eu controlo um cavalo de 450 quilos. Que importância tem saber saltar à corda?”
Pinte com uma paleta cósmica
“Costumamos esperar que a felicidade apareça”, diz Sapna Jaggeshar Mudhoo. “Mas ela já está lá, basta aprender a reconhecer os sinais que o corpo e o cérebro nos enviam.”
Psicóloga e membro fundador do Rotary Club de Helvetia Happiness, a sua boa disposição reflete o ambiente da Maurícia (78.º lugar), uma ilha tropical africana no oceano Índico, famosa pelas praias e pelas cascatas subaquáticas. No entanto, as alterações climáticas e os efeitos económicos da pandemia afetaram fortemente o país, e Jaggeshar observa que os mauricianos “trabalham pela paz à sua volta, mas não dentro de si”. No seu consultório, ensina os pacientes a reaprender a esperar a alegria, mesmo em pequenos momentos, restaurando neles o sentido de propósito.
Como terapeuta, identifiquei-me com isso. No meu consultório, atendo pessoas que enfrentam dependências, abusos, doenças e traumas. A terapia que pratico, baseada na aceitação e compromisso, parte da ideia de que o conceito comum de felicidade está distorcido. Fomos ensinados a acreditar que a felicidade é o nosso estado natural e que, se não estamos felizes, há algo errado. Na verdade, a vida é um fluxo constante de emoções – agradáveis, dolorosas, neutras – e, se aprendermos a reconhecê-las sem julgamento, abrimo-nos a uma gama mais ampla de experiências: paz, conflito, contentamento, tristeza. É como pintar com todas as cores, em vez de usar sempre o mesmo tom de amarelo.
Seguindo o conselho de Jaggeshar, mantive durante uma semana um “diário da felicidade”, registando emoções e sensações físicas. Uma delas foi num dia escaldante, enquanto eu e a minha mulher víamos a Avi competir numa prova equestre. Os mosquitos eram vorazes, a camisa estava errada para o calor, e sentia uma comichão a espalhar-se nas costas.
A nossa filha ficou em último lugar. Mas, enquanto conversava com a minha mulher e ouvia as cigarras a anunciar o fim do verão, senti uma leveza no estômago e um formigueiro suave no pescoço. Quando a sensação desapareceu, ficou uma clareza surpreendente: mente, corpo e ambiente estavam em harmonia. Não precisei de ar condicionado nem de uma bebida fria – bastava aquela serenidade silenciosa que me dizia que o momento fazia sentido e que eu o recordaria. Foi então que percebi que Jaggeshar tinha razão.
Pequenas vitórias
Allen Sellers, membro do Rotary Club de Panamá Nordeste há 44 anos, acredita que os panamenhos encaram a felicidade de forma prática.
“Muitas vezes ouço dizer que somos dos povos mais felizes do mundo”, afirma. (O país ocupa o 41.º lugar.) “Acho que isso se deve ao facto de valorizarmos objetivos concretos e imediatos.”
Identifiquei-me com isso. Durante anos, achei as listas de tarefas uma perda de tempo, mas ultimamente tenho sentido um prazer enorme em riscar cada item concluído. É uma forma tangível de progresso, um pequeno triunfo.
Sellers, de 76 anos, fala com serenidade de quem encontrou paz interior. “A felicidade”, diz, “vem de muitas pequenas coisas que, somadas, se transformam em HAPPINESS com maiúsculas – uma sensação de satisfação e harmonia com o mundo e o nosso lugar nele.” Em suma, devemos cuidar da saúde e das finanças, mas também das relações familiares, dos amigos e, sobretudo, de nós próprios
Passei a fazer “check-ins” comigo mesmo: o que estou a sentir? Porquê? Estou a ser tão gentil comigo como sou com os outros? Um dia, fiz uma lista de 50 coisas de que me orgulho, exercício que começou fútil, tornou-se reconfortante e acabou por ser profundo. Desde então, volto a ela regularmente e acrescento mais. Sempre que o faço, sinto-me bem.
Uma fórmula finlandesa para a felicidade
E assim cheguei ao epicentro mundial da felicidade: a Finlândia. Quando falei com Katja Koskimies, que vive em Oulu, perto do Círculo Polar Ártico, ela estava deitada numa rede no meio de um jardim idílico. Com o cabelo ruivo e uma energia contagiante, destacava-se num país conhecido pela reserva emocional. “Gosto de falar sobre sentimentos”, disse. “Quando compreendes os teus próprios sentimentos, é fácil compreender os dos outros.”
Na Finlândia, explica esta coach de 53 anos, a felicidade manifesta-se na serenidade dos gestos quotidianos, como caminhar na floresta, saborear um café em silêncio. É uma satisfação enraizada na simplicidade, na natureza e no espaço pessoal.
Os finlandeses têm algumas vantagens naturais: o país é vasto, do tamanho da Alemanha, mas com apenas um décimo da população, e até as desvantagens, como os invernos rigorosos, não parecem incomodar ninguém. Membro do Rotary Club de Oulu City, Katja contou-me histórias de bebés que dormem ao ar livre em temperaturas abaixo de zero. “O tempo não nos afeta”, disse. “Sol, chuva ou neve, está tudo bem.” No verão, anda de mota e relaxa na sauna à beira do lago; no inverno, pratica mota de neve, hóquei e pesca no gelo, desde que possa estar em contacto com a natureza, numa visão de “consciência total” que ecoa as palavras de Muruganathan.
Eu não sei patinar, e prometi à minha mãe que nunca andaria de mota, mas no dia seguinte, enquanto passeava o cão e ouvia um podcast, o telemóvel ficou sem bateria. Irritado com o silêncio, comecei a olhar em volta, primeiro aborrecido, depois curioso. Que aparência teria aquela mansão, estilo Tudor, por dentro? Minutos depois, estava fascinado com o que me rodeava: o bairro era lindo, o céu imenso, e o meu cão, simples e feliz, era a melhor companhia. Tudo isto, a duas ruas de casa.
Pequenos passos, grandes efeitos
O que aprendi com tudo isto? Que os pequenos conselhos fizeram a maior diferença. Práticas simples, repetidas todos os dias, criam momentos de graça e consciência que deixam a felicidade infiltrar-se discretamente.
Particularmente útil foi o “calendário da felicidade” que Michel Jazzar me enviou, com um desafio diário, nada de complicado (“Dá um pequeno passo em direção a um grande objetivo”), mas lembretes preciosos no ritmo frenético da vida. Durante o mês em que o segui, reencontrei um velho amigo, perdoei uma mágoa antiga e terminei um romance que escrevia há anos. Ao fim de 30 dias, o mundo parecia cheio de possibilidades.
Nesse mesmo mês, levei o meu filho à universidade. Tinha trabalhado arduamente para chegar ali, com uma dedicação e maturidade que me encheram de orgulho. Houve lágrimas, inevitavelmente. Depois de me despedir, a chuva desabou, e chorei no carro – foi terrível e maravilhoso, e talvez o momento mais autêntico dos meus 53 anos. Não era felicidade, nem tristeza. Era a vida.